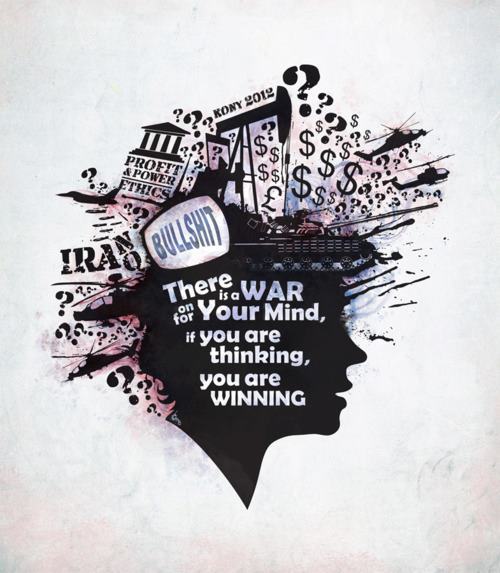A espera acabou. Eis as listas que não poderiam deixar de figurar no @doidoscine nos estertores deste ano…
Os 10 melhores filmes de 2012:
1) “O hobbit – uma jornada inesperada”, de Peter Jackson > crítica
1) “A separação”, de Asghar Fahradi > crítica
2) “A invenção de Hugo Cabret”, de Martin Scorsese > crítica
3) “Drive”, de Nicolas Winding Refn > crítica
4) “Intocáveis”, de Olivier Nakache e Eric Toledano > crítica
5) “Caminho para o nada”, de Monte Hellman
6) “Shame”, de Steve McQueen > crítica
7) “Pina”, de Wim Wenders > crítica
8) “O artista”, de Michel Hazanavicius > crítica
9) “Moonrise Kingdom”, de Wes Anderson > crítica
10) “Argo”, de Ben Affleck > crítica
Alguns dos filmes que escaparam pelos poros do filtro estético, mas têm qualidades (o que dá uma noção de quanto é angustiante a escolha):
“Os Vingadores”, de Joss Whedon
“A vida de Pi”, de Ang Lee
“As vantagens de ser invisível”, de Stephen Chbosky > crítica
“This must be the place”, de Paolo Sorrentino
“The girl with the dragon tattoo”, de David Fincher > crítica
“A tentação”, de Matthew Chapman > crítica
“Na terra de amor e ódio”, de Angelina Jolie > crítica
“Ted”, de Seth MacFarlane
“Tão forte e tão perto”, de Stephen Daldry > crítica
“Sombras da noite”, de Tim Burton > crítica
“Sudoeste”, de Eduardo Nunes > crítica
“Slovenian girl”, de Damjan Kozole
“Skyfall”, de Sam Mendes
“Sete dias com Marilyn”, de Simon Curtis > crítica
“Ruby Sparks: a namorada perfeita”, de Jonathan Dayton e Valerie Faris > crítica
“Rota irlandesa”, de Ken Loach > crítica
“Românticos anônimos”, de Jean-Pierre Améris > crítica
“Romance de formação”, de Julia De Simone > crítica
“Raul – o início, o meio e o fim”, de Walter Carvalho
“O porto”, de Aki Kaurismäki > crítica
“Poder paranormal”, de Rodrigo Cortés
“A perseguição”, de Joe Carnahan
“Para Roma, com amor”, de Woody Allen > crítica
“Paraísos artificiais”, de Marcos Prado > crítica
“As palavras”, de Brian Klugman e Lee Sternthal
“No”, de Pablo Larraín
“A negociação”, de Nicholas Jarecki
“As neves do Kilimanjaro”, de Robert Guédiguian
“A música segundo Tom Jobim”, de Nelson Pereira dos Santos
“O monge”, de Dominik Moll
“O moinho e a cruz”, de Lech Majewski
“Um método perigoso”, de David Cronenberg > crítica
“Magic Mike”, de Steven Soderbergh
“O legado Bourne”, de Tony Gilroy
“L’Apollonide – os amores da casa de tolerância”, de Bertrand Bonello
“Jovens adultos”, de Jason Reitman > crítica
“Isto não é um filme”, de Jafar Panahi
“Infância clandestina”, de Benjamín Ávila > crítica
“O impossível”, de Juan Antonio Bayona
“Hotel Transilvânia”, de Genndy Tartakovsky
“O homem que mudou o jogo”, de Bennett Miller > crítica
“O homem da máfia”, de Andrew Dominik
“Histórias cruzadas”, de Tate Taylor > crítica
“Heleno”, de José Henrique Fonseca > crítica
“Hasta la vista: venha como você é”, de Geoffrey Enthoven
“Habemus Papam”, de Nanni Moretti > crítica
“A guerra está declarada”, de Valérie Donzelli
“Frankenweenie”, de Tim Burton
“Febre do Rato”, de Claudio Assis
“O espião que sabia demais”, de Tomas Alfredson > crítica
“O espetacular Homem-Aranha”, de Marc Webb > crítica
“Na estrada”, de Walter Salles > crítica
“Entre o amor e a paixão”, de Sarah Polley > crítica
“Elles”, de Malgorzata Szumowska
“Elefante branco”, de Pablo Trapero > crítica
“Deus da carnificina”, de Roman Polanski
“O ditador”, de Larry Charles
“Os descendentes”, de Alexander Payne > crítica
“Cosmópolis”, de David Cronenberg > crítica
“Conspiração americana”, de Robert Redford
“Busca implacável 2”, de Olivier Megaton
“Batman: o cavaleiro das trevas ressurge”, de Christopher Nolan > crítica
“Apenas uma noite”, de Massy Tadjedin > crítica
“Amor e dor”, de Ye Lou
“Um alguém apaixonado”, de Abbas Kiarostami > crítica: Carlos Eduardo Bacellar e crítica: Claudia Furiati
“Albert Nobbs”, de Rodrigo García
“360”, de Fernando Meirelles > crítica
Agora vamos à lista menos glamurosa, não obstante muito mais divertida de elaborar.
Os piores de 2012:
Ouro: “Fausto”, de Aleksandr Sokurov > quebra de recorde olímpico; o recorde mundial continua com “Tio Boonmee que pode recordar suas vidas passadas” (2010), do diretor tailandês Apichatpong Weerasethakul
Prata: “Minha felicidade”, de Sergei Loznitsa > crítica
Bronze: “Holy motors”, de Leos Carax > crítica
A piada sul-coreana de mau gosto de 2012: menção horrorosa para o insuportável “Hahaha”, de Sang-soo Hong
Carlos Eduardo Bacellar